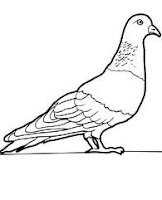1 - Ato religioso mediante o qual se cria mais um cristo e uma virgem a menos.
2 - Única sentença de prisão perpétua que pode ser cancelada por mau comportamento.
3 - Situação em que nenhuma mulher tem o que esperava e nenhum homem espera o que tem.
4 - A única guerra onde se dorme com o inimigo.
5- Considerada a principal causa do divórcio.
6 - Processo químico através do qual uma laranja se transforma em limão.
7 - Catalisador da engorda.
8 - Matematicamente: soma de afeto, subtração de liberdade, multiplicação de responsabilidades e divisão de bens.
Fonte: Olá Guia - Balneário Camboriú - Julho 2012
Aqui tem humor, crônicas, contos, futebol das antigas, gibis, mpb, biografias de artistas e atrizes de hollywood.
segunda-feira, 17 de setembro de 2012
O espantoso silêncio
Hoje, a praça de São Marcos tem mais turista americano do que pombo. E muitos, inadvertidamente, dão milho aos americanos e deixam os pombos a ver navios.
Graças a Deus, a nossa Cinelândia ainda não foi invadida pelos nossos irmãos do Norte. De sorte que, lá, os pombos ainda constituem uma sólida maioria. Diria mesmo que a Cinelândia tem mais pombos do que o soneto de Raimundo Correia. E são tão mansos, de uma tal docilidade, que parecem amestrados.
Todas as manhãs e todas as tardes vem uma mão anônima e amorosa dar-lhes milho. O que então acontece é uma espécie de milagre, de suave milagre. Às centenas, aos milhares, sei lá, descem pombos de não sei que misteriosos telhados, de que encantados beirais. É lindo vê-los dando pulinhos e bicando o milho.
Mas não é bem isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que os pombos da Cinelândia devem ter visto coisas do arco da velha. Temos três locais altamente politizados: — o largo de São Francisco, o largo da Carioca e a Cinelândia. Os dois primeiros ainda estão ressoantes de velhos comícios espectrais. Em especial, o largo de São Francisco.
Certamente, vocês já ouviram falar na "Primavera de sangue". Foi metáfora e foi manchete. Mas vamos aos fatos.
Há uns quarenta anos, ou cinqüenta, os estudantes resolveram fazer o enterro simbólico do então chefe de Polícia. Foi proibida a passeata ou por outra: — não foi proibida. O chefe de Polícia autorizou-a. E, então, os estudantes concentraram-se, exatamente, no largo de São Francisco. Lá estavam o caixão, as velas acesas, com os estudantes chorando falsamente o pseudo-defunto. Quando, porém, saiu o enterro, três ou quatro policiais, à paisana, infiltrados na massa, esfaquearam e mataram dois estudantes.
Um dos repórteres presentes dispara para a redação. Lá chegando deu à luz a metáfora:
— "Primavera de sangue".
O diretor do jornal, num arroubo perdulário, puxou uma cédula e a enfiou na mão do estilista. No dia seguinte, a manchete sangrava no alto da primeira página. A metáfora quase pôs abaixo o governo. E, até hoje, há sempre um velho profissional, que se lembra da "Primavera de sangue".
Também na Cinelândia houve memoráveis explosões cívicas. E os pombos de lá, como uma alada platéia, a tudo assistiam, arrulhando os seus aplausos e as suas vaias. E, se um deles tivesse de redigir suas memórias, havia de conceder um especial destaque ao comício da escola de belas-artes.
Trata-se de um episódio que, na época, encheu a cidade de um divertido horror.
Eis o caso: — certo dia, os pombos da Cinelândia foram surpreendidos por uns trinta ou quarenta rapazes. Num golpe de mão, os jovens ocuparam as escadarias do Municipal. Os pombos imaginaram que a rapaziada ia falar do Vietnã, o assunto da moda. Engano. Simplesmente, estavam ali para um comício de um tipo jamais suspeitado. Ninguém xingou os Estados Unidos. O primeiro orador anunciou a morte da palavra. O segundo também anunciou a morte da palavra. E assim o terceiro, o quarto, o quinto oradores. Como fizeram cinco discursos e todos vociferando a mesma coisa, pode-se dizer que a palavra morreu cinco vezes.
Os pombos se entreolhavam, num mudo escândalo desolado. Não entendiam nada. Mas nisto chegou o momento do milho. Dez minutos depois, voltam os pombos. Eis o que viram: — os rapazes estavam rasgando poemas de amor. Com tal gesto queriam demonstrar que a nossa época não comporta nem a palavra, nem o amor. Era meio estranho que latagões, aparentemente válidos, tivessem tal desgosto do amor e, por conseqüência, da mulher.
Por fim, retiraram-se, gloriosamente, os rapazes. E, então, ruflando as asas e sacudindo as penas, os pombos voltaram para o soneto de Raimundo Correia. Passou.
De vez em quando, porém, lembro-me do episódio e faço da "morte da palavra" um tema de meditação fúnebre. Até hoje, não sei se a palavra está morta. Admito que se possa fazer um romance sem palavras, um conto sem palavras, um soneto sem palavras e até um recibo sem palavras. Admito que, futuramente, um novo Tolstoi venha a fazer uma outra Guerra e paz sem título e com 1200 páginas em branco. Não consigo imaginar, porém, que certas situações vitais possam dispensar a palavra.
Pode-se admitir um flerte mudo. Todavia, não se conhece um flerte eterno ou, pelo menos, que tenha chegado às bodas de prata ou de ouro. Um flerte dura escassamente os quarenta minutos de um chá, de um desfile, jantar etc. etc. Em seguida, tem de entrar a palavra. Homem e mulher não podem ficar eternamente olhando um para o outro.
Conheci um paulista que era, por índole e por fatalidade geográfica, um introvertido. Falava pouquíssimo. Um dia, apaixonou-se. Não tirava a vista do ser amado. O pior é que a moça estava achando o silêncio uma prova de alma profunda, inescrutável e fascinante. Até que, um dia, o paulista resolve falar. Aproxima-se da bem-amada e sussurra-lhe: — "Rua tal, número tal, apartamento 1015, última porta à direita. Cinco da tarde".
Para um paulista, ainda mais quatrocentão, era um esforço vocal insuportável. E teve que se sentar, mais adiante, com as pernas bambas e a vista turva.
Claro que esse mutismo atroz é, no amoroso, uma exceção escandalosa. Seja como for, mesmo o paulista citado teve que dizer um endereço e uma hora. A dama achou, com isso, que o ser amado era de uma prolixidade inefável. Normalmente, ninguém ama sem uma inestancável torrente verbal.
Tive um colega que dava para a namorada telefonemas de oito horas. Nem ele nem ela faziam uma pausa. Falavam ao mesmo tempo, e tanto a pequena como o rapaz não entendiam o que o outro dizia. Mas falei do paulista e agora me lembrei: — há pior, há pior.
Quem me contou o episódio foi Marcos André. Vocês conhecem, decerto, o admirável colunista. Eu o admiro por vários motivos e mais este: — Marcos André andou pela China, pelo Japão, por Formosa. Viu paisagens, flores, lagos jamais sonhados. Quando o leio lembro-me do nome azulado, lunar, de Pierre Loti. E, como este, Marcos André conhece a China anterior a Mao Tsé-tung e, portanto, a China do ópio.
Em Hong Kong, o colega foi testemunha da mais linda e silenciosa história de amor. Conta Marcos André que certo milionário brasileiro foi traído pela esposa. Quis gritar, mas a infiel disse-lhe sem medo: — "Eu não amo você, nem você a mim. Não temos nenhum amor a trair". O marido baixou a cabeça. Doeu-lhe, porém, o escândalo. Resolveu viajar para a China, certo de que a distância é o esquecimento.
Primeiro, andou em Hong Kong. Um dia, apanhou o automóvel e correu como um louco. Foi parar quase na fronteira com a China. Desce e percorre, a pé, uma aldeia miserável. Viu, por toda a parte, as faces escavadas da fome. Até que entra na primeira porta. Tinha sede e queria beber. Olhou aquela miséria abjeta. E, súbito, vê surgir, como num milagre, uma menina linda, linda. Aquela beleza absurda, no meio de sordidez tamanha, parecia um delírio.
O amor começou ali. Um amor que não tinha fim, nem princípio, que começara muito antes e continuaria muito depois. Não houve uma palavra entre os dois, nunca. Um não conhecia a língua do outro. Mas, pouco a pouco, o brasileiro foi percebendo esta verdade: — são as palavras que separam. Durou um ano o amor sem palavras.
Os dois formavam um maravilhoso ser único. Até que, de repente, o brasileiro teve que voltar para o Brasil. Foi também um adeus sem palavras. Quando embarcou, ele a viu num junco que queria seguir o navio eternamente. Ele ficou muito tempo olhando. Depois não viu mais o junco. A menina não voltou. Morreu só, tão só. Passou de um silêncio a outro silêncio mais profundo.
A Cabra Vadia: novas confissões / Nelson Rodrigues; seleção de Ruy Castro. — São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
Graças a Deus, a nossa Cinelândia ainda não foi invadida pelos nossos irmãos do Norte. De sorte que, lá, os pombos ainda constituem uma sólida maioria. Diria mesmo que a Cinelândia tem mais pombos do que o soneto de Raimundo Correia. E são tão mansos, de uma tal docilidade, que parecem amestrados.
Todas as manhãs e todas as tardes vem uma mão anônima e amorosa dar-lhes milho. O que então acontece é uma espécie de milagre, de suave milagre. Às centenas, aos milhares, sei lá, descem pombos de não sei que misteriosos telhados, de que encantados beirais. É lindo vê-los dando pulinhos e bicando o milho.
Mas não é bem isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que os pombos da Cinelândia devem ter visto coisas do arco da velha. Temos três locais altamente politizados: — o largo de São Francisco, o largo da Carioca e a Cinelândia. Os dois primeiros ainda estão ressoantes de velhos comícios espectrais. Em especial, o largo de São Francisco.
Certamente, vocês já ouviram falar na "Primavera de sangue". Foi metáfora e foi manchete. Mas vamos aos fatos.
Há uns quarenta anos, ou cinqüenta, os estudantes resolveram fazer o enterro simbólico do então chefe de Polícia. Foi proibida a passeata ou por outra: — não foi proibida. O chefe de Polícia autorizou-a. E, então, os estudantes concentraram-se, exatamente, no largo de São Francisco. Lá estavam o caixão, as velas acesas, com os estudantes chorando falsamente o pseudo-defunto. Quando, porém, saiu o enterro, três ou quatro policiais, à paisana, infiltrados na massa, esfaquearam e mataram dois estudantes.
Um dos repórteres presentes dispara para a redação. Lá chegando deu à luz a metáfora:
— "Primavera de sangue".
O diretor do jornal, num arroubo perdulário, puxou uma cédula e a enfiou na mão do estilista. No dia seguinte, a manchete sangrava no alto da primeira página. A metáfora quase pôs abaixo o governo. E, até hoje, há sempre um velho profissional, que se lembra da "Primavera de sangue".
Também na Cinelândia houve memoráveis explosões cívicas. E os pombos de lá, como uma alada platéia, a tudo assistiam, arrulhando os seus aplausos e as suas vaias. E, se um deles tivesse de redigir suas memórias, havia de conceder um especial destaque ao comício da escola de belas-artes.
Trata-se de um episódio que, na época, encheu a cidade de um divertido horror.
Eis o caso: — certo dia, os pombos da Cinelândia foram surpreendidos por uns trinta ou quarenta rapazes. Num golpe de mão, os jovens ocuparam as escadarias do Municipal. Os pombos imaginaram que a rapaziada ia falar do Vietnã, o assunto da moda. Engano. Simplesmente, estavam ali para um comício de um tipo jamais suspeitado. Ninguém xingou os Estados Unidos. O primeiro orador anunciou a morte da palavra. O segundo também anunciou a morte da palavra. E assim o terceiro, o quarto, o quinto oradores. Como fizeram cinco discursos e todos vociferando a mesma coisa, pode-se dizer que a palavra morreu cinco vezes.
Os pombos se entreolhavam, num mudo escândalo desolado. Não entendiam nada. Mas nisto chegou o momento do milho. Dez minutos depois, voltam os pombos. Eis o que viram: — os rapazes estavam rasgando poemas de amor. Com tal gesto queriam demonstrar que a nossa época não comporta nem a palavra, nem o amor. Era meio estranho que latagões, aparentemente válidos, tivessem tal desgosto do amor e, por conseqüência, da mulher.
Por fim, retiraram-se, gloriosamente, os rapazes. E, então, ruflando as asas e sacudindo as penas, os pombos voltaram para o soneto de Raimundo Correia. Passou.
De vez em quando, porém, lembro-me do episódio e faço da "morte da palavra" um tema de meditação fúnebre. Até hoje, não sei se a palavra está morta. Admito que se possa fazer um romance sem palavras, um conto sem palavras, um soneto sem palavras e até um recibo sem palavras. Admito que, futuramente, um novo Tolstoi venha a fazer uma outra Guerra e paz sem título e com 1200 páginas em branco. Não consigo imaginar, porém, que certas situações vitais possam dispensar a palavra.
Pode-se admitir um flerte mudo. Todavia, não se conhece um flerte eterno ou, pelo menos, que tenha chegado às bodas de prata ou de ouro. Um flerte dura escassamente os quarenta minutos de um chá, de um desfile, jantar etc. etc. Em seguida, tem de entrar a palavra. Homem e mulher não podem ficar eternamente olhando um para o outro.
Conheci um paulista que era, por índole e por fatalidade geográfica, um introvertido. Falava pouquíssimo. Um dia, apaixonou-se. Não tirava a vista do ser amado. O pior é que a moça estava achando o silêncio uma prova de alma profunda, inescrutável e fascinante. Até que, um dia, o paulista resolve falar. Aproxima-se da bem-amada e sussurra-lhe: — "Rua tal, número tal, apartamento 1015, última porta à direita. Cinco da tarde".
Para um paulista, ainda mais quatrocentão, era um esforço vocal insuportável. E teve que se sentar, mais adiante, com as pernas bambas e a vista turva.
Claro que esse mutismo atroz é, no amoroso, uma exceção escandalosa. Seja como for, mesmo o paulista citado teve que dizer um endereço e uma hora. A dama achou, com isso, que o ser amado era de uma prolixidade inefável. Normalmente, ninguém ama sem uma inestancável torrente verbal.
Tive um colega que dava para a namorada telefonemas de oito horas. Nem ele nem ela faziam uma pausa. Falavam ao mesmo tempo, e tanto a pequena como o rapaz não entendiam o que o outro dizia. Mas falei do paulista e agora me lembrei: — há pior, há pior.
Quem me contou o episódio foi Marcos André. Vocês conhecem, decerto, o admirável colunista. Eu o admiro por vários motivos e mais este: — Marcos André andou pela China, pelo Japão, por Formosa. Viu paisagens, flores, lagos jamais sonhados. Quando o leio lembro-me do nome azulado, lunar, de Pierre Loti. E, como este, Marcos André conhece a China anterior a Mao Tsé-tung e, portanto, a China do ópio.
Em Hong Kong, o colega foi testemunha da mais linda e silenciosa história de amor. Conta Marcos André que certo milionário brasileiro foi traído pela esposa. Quis gritar, mas a infiel disse-lhe sem medo: — "Eu não amo você, nem você a mim. Não temos nenhum amor a trair". O marido baixou a cabeça. Doeu-lhe, porém, o escândalo. Resolveu viajar para a China, certo de que a distância é o esquecimento.
Primeiro, andou em Hong Kong. Um dia, apanhou o automóvel e correu como um louco. Foi parar quase na fronteira com a China. Desce e percorre, a pé, uma aldeia miserável. Viu, por toda a parte, as faces escavadas da fome. Até que entra na primeira porta. Tinha sede e queria beber. Olhou aquela miséria abjeta. E, súbito, vê surgir, como num milagre, uma menina linda, linda. Aquela beleza absurda, no meio de sordidez tamanha, parecia um delírio.
O amor começou ali. Um amor que não tinha fim, nem princípio, que começara muito antes e continuaria muito depois. Não houve uma palavra entre os dois, nunca. Um não conhecia a língua do outro. Mas, pouco a pouco, o brasileiro foi percebendo esta verdade: — são as palavras que separam. Durou um ano o amor sem palavras.
Os dois formavam um maravilhoso ser único. Até que, de repente, o brasileiro teve que voltar para o Brasil. Foi também um adeus sem palavras. Quando embarcou, ele a viu num junco que queria seguir o navio eternamente. Ele ficou muito tempo olhando. Depois não viu mais o junco. A menina não voltou. Morreu só, tão só. Passou de um silêncio a outro silêncio mais profundo.
[22/9/1968]
___________________________________________________________________________A Cabra Vadia: novas confissões / Nelson Rodrigues; seleção de Ruy Castro. — São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
Admirável defunto
Uma coluna diária precisa ter um elenco variadíssimo. Sim, um elenco colorido de mágicos, trapezistas, clowns, arquitetos, cineastas, heróis, estudantes, intelectuais e pulhas.
Quando o colunista precisa de um mímico, tem o mímico; e se é cineasta, vem o cineasta; e se é o intelectual, há o intelectual.
Fiz esta breve introdução para concluir: — as minhas confissões vivem de um elenco assim. Meus protagonistas e meus comparsas dariam para lotar uma platéia de Fla-Flu. E um dos meus personagens mais fascinantes é exatamente o "defunto vocacional".
Não sei se me entendem. Imagino mesmo que o leitor há de perguntar: — "Por que defunto e por que vocacional?".
Tentarei explicar.
Outro dia cruzo na Avenida com um morto. Passou por mim e acenou-me com os dedos: — "Salve!".
Balbuciei, lívido: — "Salve". E fiquei olhando o outro afastar-se e sumir na multidão. Mas por que o meu espanto e por que o meu horror? Era um sujeito que eu já velara, e chorara, e florira umas cinco vezes.
Dirá alguém: — "Ilusão". Seja ilusão. Mas o "defunto vocacional" cumprimenta como os outros, e calça como os outros, e tem gravata como os outros. E dá sempre a sensação de que já o vimos de pés juntos e de algodão nas narinas. Sua cara é hirta e feia como uma máscara, sim uma máscara da cor de certas pinceladas amarelas de Van Gogh.
Mas por que estou dizendo tudo isso? Ah, já sei.
Imaginem vocês que recebi um telefonema fantástico. Era alguém que desejava de mim uma entrevista imaginária. O sujeito falava de maneira especialíssima. Era uma voz fininha de criança que baixa em centro espírita. Fiz-lhe a pergunta assustada:
— "O senhor tem mesmo essa voz?".
Jurou que tinha. E eu: — "Mas quem é o senhor?".
Veio a resposta terrível: — "Sou o homem de bem".
Ora, eu estava certo de que o homem de bem era, precisamente, "O Grande Defunto". Ninguém tão morto e ninguém tão enterrado. Lembrava-me da missa mandada rezar pelo seu eterno repouso. E me parecia irritante que alguém saísse da tumba e pedisse uma entrevista imaginária. Seriam ambos imaginários: — a entrevista e o homem de bem.
Tive de usar de franqueza: — "Meu amigo, vai-me desculpar, mas o senhor já morreu".
Há uma pausa lúgubre. E, depois do suspense, diz o homem de bem: — "Obrigado pela informação". E desligou.
Viro-me para os colegas e, puxando um cigarro, digo-lhes: — "O homem de bem é um cadáver mal-informado. Não sabe que morreu".
Volto para a minha mesa. Bate novamente o telefone.
Aviso: — "Se for o homem de bem, não estou". Felizmente, não era o falecido. O contínuo pergunta: — "Quem quer falar com ele?". Pausa. O contínuo repete: — "Quem? O canalha?".
Alguém que se dizia "o canalha" queria falar comigo. Levanto e vou atender. Mas achava curioso que no mesmo dia, na mesma hora, fosse eu solicitado pelo falecido homem de bem e por um salubérrimo canalha.
Do outro lado da linha, diz alguém: — "Seu Nelson Rodrigues? Eu queria dar uma entrevista imaginária. Pode ser?".
Fiz-lhe a primeira pergunta: — "Quem é o senhor?".
E o outro, com a voz de quem está mascando chicletes: — "Já disse. Sou o canalha".
Tive de explicar-lhe: — "Meu amigo, já temos um canalha oficial. Nunca ouviu falar no Palhares, o que não respeita nem as cunhadas?".
Respondeu, com radiante vaidade: — "Sou muito pior do que o Palhares". Era uma bravata óbvia. Digo:
— "Escuta. O Palhares beijou a cunhada no corredor. E o senhor? Vamos lá. Qual foi a sua ignomínia?".
O outro dá uma risadinha de Chaliapine em Mefistófeles: — "Só responderei no terreno baldio".
Faço uma pausa. Estou achando a voz muito moça. Pergunto:
— "Afinal, que idade tem o senhor?".
Eis a resposta:
— "Dezessete anos".
Ao ouvir falar em "dezessete" tremo em cima dos sapatos. Faço-lhe reverências de Michel Zevaco:
— "Peço-lhe mil desculpas. Eu não sabia que o senhor era o jovem. Pode vir. O terreno baldio jamais fechará suas portas para o jovem".
Expliquei-lhe que as entrevistas imaginárias devem começar à meia-noite, hora que, segundo Machado de Assis, apavora. O jovem foi sarcástico:
— "A meia-noite é uma ilusão". Seja como for, foi magnânimo; e aceitou o tenebroso horário.
Assim me despedi: — "Salve, jovem canalha!".
Imediatamente, liguei para o contra-regra do terreno baldio:
— "Sou eu. Manda providenciar papel picado e listas telefônicas. Vamos receber a mais ilustre visita de toda a história do terreno baldio".
Pergunta, pálido, o contra-regra: — "Quem?". Imaginou, por certo, que seria um rajá montado num elefante. Disse-lhe:
— "O jovem canalha!".
Era honra demais para o contra-regra. Sob violenta dispnéia emocional, quase desfaleceu no telefone:
— "Não merecemos tanto".
Trato de instigá-lo:
— "Capricha, capricha!".
Saio do telefone, ponho o paletó e embaixo apanho o primeiro táxi. Arquejo:
— "Me leva no terreno baldio. Chispa".
Salto lá. A cabra, os gafanhotos, os sapos, as pulgas, os caramujos estão assanhadíssimos:
— "Cadê o jovem canalha?". Tenho que pedir calma. Chamo as pulgas:
— "Modos, hem, modos".
Ao longe, como no soneto do Alencar de Os Maias, um burro, pensativo, pastava. E, súbito, a cabra põe a boca no mundo: — "Evém o jovem canalha!". Era a pura verdade.
Vinha ele e com as costeletas ao vento. Mas não vinha só. Uma massa o seguia, berrando como nos comícios do Brigadeiro:
— "Já ganhou! Já ganhou!".
De um lado do jovem canalha marchava o dr. Alceu; de outro lado vinha d. Hélder. E ambos abanavam o pulha com uma Revista do Rádio. Foi sublime quando o patife entrou no terreno baldio. Num desvairado arroubo, o dr. Alceu forrou o chão com o próprio paletó para o jovem pisar. Do alto, choviam listas telefônicas e papel picado.
Finalmente, pedi silêncio. E então o mestre-de-cerimônias anunciou os títulos do entrevistado:
— "É estudante, mas não sabe nada, porque onde se viu estudante estudar? Nunca leu um livro. Só lê manchete".
Palmas, vivas, foguetes. Dr. Alceu começa a gritar:
— "Tem a razão da idade!".
A massa coral de gafanhotos, sapos, pulgas, camaleões, pôs-se a repetir:
— "Tem a razão da idade! Tem a razão da idade!".
E, súbito, fez-se o maior silêncio da terra. O "jovem canalha", de viva voz, ia contar o feito que estava justificando aquela apoteose. Com radiante modéstia, disse tudo:
— "Não fiz nada demais. Estão exagerando. Simplesmente, havia uma menina reacionária. Tão reacionária e obscurantista que namorava de mãos dadas. Eu e mais uns sete pegamos a menina. Batemos no namorado".
Pausa, suspense. E, então, limpando as unhas com um pau de fósforo, concluiu:
— "Eu sou um co-autor do jovem estupro".
Em delírio, a multidão avançou. O co-autor foi carregado na bandeja, e de maçã na boca, como um leitão assado. Assim fez, pelo terreno baldio, a triunfal volta olímpica.
[21/9/1968]
___________________________________________________________________________A Cabra Vadia: novas confissões / Nelson Rodrigues; seleção de Ruy Castro. — São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
Assinar:
Comentários (Atom)