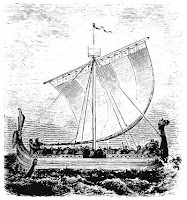Os vikings, guerreiros que viveram entre os anos 750 e 1050, se dedicavam à pilhagem e a massacrar seus inimigos. Mas também eram astutos comerciantes, artesãos e colonizadores.
“Eles saqueavam, matavam e atuavam como mercenários em muitos exércitos europeus. Mas também faziam negócios, eram camponeses e magníficos navegantes, com os navios mais modernos da época", explica Keller, catedrático da Universidade de Oslo e especialista em história viking.
Longe da imagem popular, os vikings constituíram uma civilização culta e se adaptaram à vida de muitos dos lugares que invadiram. Na Islândia e na Groenlândia, formaram sociedades vikings puras; na Irlanda e Escócia foram absorvidos pelos celtas; na Rússia, pelos eslavos; e na França, se adaptaram rapidamente.
Além disso, a mulher tinha uma forte posição na comunidade, que só perdeu após a conversão do povo ao cristianismo, entre os anos 1000 e 1030. Na época, o culto aos deuses Odin e Tor foi abandonado. Fisicamente, eles superavam em altura o resto dos povos europeus, e não usavam capacetes com chifres, como costumam ser representados. Ele acrescentou que em inscrições em pedras os capacetes aparecem sem chifres. "Isso foi uma invenção do compositor alemão Richard Wagner", garantiu.
Foi um viking, Eirik Raude Torvaldsson, ou "Eric, o Vermelho", quem, segundo a literatura, descobriu a Groenlândia entre os anos 982 e 986, depois de ser expulso da Islândia por causa de um assassinato. Seu filho, Leif Eiriksson, pode ter descoberto a América no ano 1000, segundo documentam as sagas, escritos originais da atual Islândia que refletem a tradição oral viking.
 |
| Leif Eiriksson |
A saga dos groenlandeses conta, no entanto, que foi o mercador Bjarne Herjolvsson que por acaso avistou a América, quando se perdeu com seu navio no meio de uma tempestade.
O relato de suas viagens animou Eiriksson a navegar para o oeste, buscando a terra desconhecida, que descobriu por volta do ano 1000, segundo afirma a saga.
Eiriksson chegou à Terra de Baffin, ao noroeste do Canadá, que batizou como Helluland, ou "terra de pedras planas". Ele também chamou o atual Labrador de Markland, ou "terra de florestas" e deu o nome de Vinland, ou "terra de verdes prados", ao que pode ser a Terranova ou Cape Cod.
Em 1961, um casal de exploradores noruegueses, Helge e Anne-Stine Ingstad, valendo-se das descrições das sagas, encontrou no povoado canadense de L'Anse aux Meadows os primeiros jazigos vikings da América. Mas foram necessários oito anos até que as provas técnicas confirmassem a descoberta.
"Encontraram casas e instrumentos no Canadá idênticos às relíquias vikings da Islândia e Groenlândia. Recolheram um anel de estanho, uma agulha e vestígios de produção de ferro, algo desconhecido para os índios norte-americanos", afirma Keller.
Ele acrescentou que os vikings viajaram pela América durante 100 anos, comerciando com os nativos. Mas não deixaram sua marca no novo mundo, lugar que não conseguiram colonizar.
Vinland
A exploração de Vinland foi efetuada pelos vikings estabelecidos nas colônias da Groenlândia e motivada pela escassez de recursos que se verificava nesta região. As colônias eram em certa medida apropriadas à ocupação humana, mas apresentavam desvantagens como o clima frio, escassez de madeira como material de combustão, de construção de casas e embarcações ou a falta de fontes acessíveis de ferro. Para suprir estas carências, Leif Ericson, filho de Eric, o Vermelho, fundador da colônia da Groenlândia, tomou a iniciativa de explorar a área circundante.
As primeiras viagens revelaram descobertas promissoras num continente de clima relativamente mais ameno e repleto de recursos essenciais à sobrevivência. Para além de Vinland (terra das vinhas), Leif Ericson descreveu ainda Markland (a costa de Labrador), Straumfjord e Helluland (costa este da Ilha de Baffin), relatadas nas sagas como locais ideais para a criação de rebanhos. No entanto, a costa este do atual Canadá situava-se a mais de 1000 milhas marítimas da Groenlândia, o que representava pelo menos três semanas de viagem de barco. Dada a impossibilidade de viajar a não ser no Verão, devido às condições atmosféricas, Leif Ericson depressa encontrou vantagem em estabelecer uma base de Inverno na região. Leifsbudir foi o nome dado a esta colônia.
Leifsbudir
A única fonte histórica que menciona a colônia de Leifsbudir em Vinland são as sagas nórdicas. De acordo com estes textos, Leifsbudir foi fundada por Leif Ericson, seu irmão Thorvald, sua irmã e sua mulher, por volta do ano 1000. O local era descrito como uma pequena aldeia destinada a servir como quartel-general às expedições que continuavam a decorrer no Verão. À falta de fontes independentes e de vestígios vikings na América do Norte, os historiadores mantiveram-se céticos quanto a estas narrativas, classificadas por alguns acadêmicos como fantasias.
 |
| Reconstrução de uma aldeia viking em L'Anse aux Meadows, no Canadá. |
Uma das características mais marcantes da aldeia descoberta pelos arqueólogos era a ausência dos artefatos que normalmente acompanhavam os vikings. As escavações revelaram apenas e só a presença de 99 pregos estragados, 1 prego em boas condições, um pregador de bronze, uma roca, uma conta de vidro e uma agulha de tricot. Este magro espólio arqueológico foi interpretado como abandono deliberado da colônia, o que é apoiado pelas narrativas da época que contam como Leifsbudir foi abandonada ao fim de poucos anos de vida.
De acordo com as sagas, Vinland tinha todas as características de uma terra prometida, mas as idéias de exploração e colonização foram abandonadas, ao que tudo indica, repentinamente. Os motivos para o abandono são descritos pelos próprios relatos contemporâneos: Vinland era a morada de um povo hostil com o qual os vikings não conseguiram estabelecer relações pacíficas.
O primeiro contato dos vikings de Leifsbudir com os índios americanos é relatado em pormenor nas sagas. O acampamento foi visitado por um grupo de nove nativos, que os vikings chamavam genericamente skraelings (“os feios”, uma palavra também aplicada aos Inuit) dos quais os vikings mataram oito por razões não especificadas. O nono elemento fugiu e regressou em canoas com um grupo maior que atacou os colonos. Na luta, morreram algumas pessoas de parte a parte incluindo Thorvald, irmão de Leif Ericson.
Apesar deste início pouco auspicioso, foi possível estabelecer relações comerciais com os Índios, com a troca de leite e têxteis nórdicos por peles de animais locais. A paz durou algum tempo até que nova batalha começou quando um índio tentou roubar uma arma e foi morto. Os vikings conseguiram ganhar este conflito, mas o acontecimento serviu para perceberem que a vida em Vinland não seria fácil sem apoio militar adequado ao qual não tinham acesso.
 |
| A morte do nórdico Thorvald em um dos conflitos com os "skraelings" |
Fontes: Entretenimento UOL; Wikipedia.